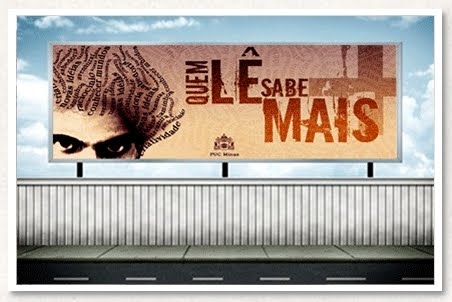Que ninguém duvide dos mistérios entre os céus e a terra vã. Fenômenos sobrenaturais deste estranho mundo. Eu mesmo que lidei com o enigma da morte, desde os tempos de coveiro no Cemitério Distrital itapemense, pouco posso avaliar. Segredo tão oculto só revelado no fatídico instante. A que desígnios e divindades cegamente serve? Este arcano da sentença temível.
Mostrar-se a mim sua ostensiva presença tendo facetas variadas. Um lacaio de quem pudesse dispor para atendê-la, como que destinado à funesta incumbência.
Noutros idos, os velórios no saudoso Itapema aconteciam em casa, tradição seguida pelas famílias do Distrito à época. Tomavam-se alguns cuidados rituais. Os pés do falecido, da finada que fosse, deveriam ficar voltados para a porta da rua. A fim de que não regressasse, sem ficar assombrando a família. Seu derradeiro caminho seria a sepultura. O cortejo era feito a pé pelas ruas principais do Bairro, passos curtos, em direção ao Cemitério Distrital. Agarrados às alças do caixão pesado, amigos íntimos, parentes cabisbaixos, admiradores. Ou conduzido dentro do rabecão em marcha lenta, enfeitado de fúnebres arranjos florais, fitas roxas, palavras consoladoras. Se católico o padre encomendava a alma. O séquito pesaroso, contrito, familiares estupefatos, a deixarem cair as lágrimas no trajeto. Seja pelo morto e por si próprios. Durante a caminhada fúnebre, muitos ficavam curiosos em saber quem havia morrido, perguntando aos enlutados de quem se tratava. Daí benziam-se respeitosamente, acaso proferiam um salmo conhecido. Por uns instantes o tímido trânsito de carros, tanto mais de carroças e gente parava, ninguém atrevia-se a ultrapassar o féretro. Pois conforme a crença popular seria uma afronta ao defunto. Podendo trazer mau presságio e infortúnios, a vida andar para trás.
Havia outro antigo costume bastante incomum, famílias que mandavam fotografar o funeral. Assim ter a lembrança do ente querido naquele último momento. Uma velha tia, viúva, providenciara para meu tio as exéquias, quando do seu falecimento. E mostrava a nós parentes que íamos visitá-la, o álbum como relíquia mórbida. O amarelado do tempo dava a essas fotografias aspecto fantasmagórico. Em primeiro plano o morto no ataúde, adornado de tule branco plissado, flores fúnebres. A máscara mortuária pétrea, ventas entupidas de algodão, mãos postas a tocar o coração imóvel. A volta o espanto, a perplexidade das expressões dos vivos. Sob a luz do flash os presentes ali tinham a semelhança de espectros. Um cruzeiro metálico, São Sebastião flechado num oratório, o luto das vestes, o branco e preto floral, uma grande bíblia aberta, compunham o cenário da fantasmagoria. A impressão é que captavam a visão do espírito do falecido sobre si mesmo, através da câmera fotográfica. Em nossas mentes o choro e as lamentações...
Contudo, não seriam estes propriamente os ossos do ofício. Fora abrir covas alheias, os enterramentos, as exumações. Ou espantar os moleques atrapalhando o descanso eterno dos mortos, correndo sobre os columbários atrás de pipas. Mas, sobretudo decifrar seu enigma universal. Que assola o Cosmos e a mísera Humanidade, os seres de Gaia. Cada povo tem uma maneira particular de encarar a morte... Antes que se tivesse um Campo Santo em solo itapemense (na 6ª década, do século XX), pessoas de famílias importantes do Distrito Municipal eram sepultadas nos cemitérios da vizinha cidade santista. Os caixões também somente vendidos lá, quando necessitava-se de algum, este era encomendado e ao chegar ficava exposto encostado na Estação das Barcas de Itapema, até a família do finado ir buscar. O Distrito estuarino de poucas almas viventes de outrora, breve tomava ciência do passamento da pessoa. A notícia do óbito corria e todos ficavam sabendo. Não se morria anônimo. Solidária consternação abatia-se entre os habitantes, sendo gente conhecida. Certas ocasiões o sino da igreja matriz dobrava em honra à pessoa morta. Sua alma protegida, que a víbora do mal estava dominada sob os pés de Nossa Senhora das Graças. Fazendo assim o ilhéu itapemense a definitiva "Travessia do Aqueronte", o Rio das Almas, levado pelo barqueiro Careonte.
Zodíacos astros circundantes do infinito conspiraram. Eis-me a superfície do planeta a cavar. Serviçal funerário. Testemunha das aflições dos moribundos viventes, bem como das causas mortis daqueles que, em seus dispensáveis casulos, transpunham os portões guardados por arcanjos do umbral de entrada. Frente as funestas ocorrências indagar incompreensíveis propósitos. Os dolorosos sepultamentos de crianças prodígios. Meninos talentosos, jovens beldades, subitamente interrompida precoces vidas partindo tão cedo. Fatalidades, descuidos com doenças, eletrocutadas sozinhas em casa, enforcados suicidas, imprudentes afogamentos no estuário, nas praias da Ilha. Tendo o mundo inteiro pela frente. A provocar verdadeira comoção dos populares. Nessas horas é difícil aceitar. Tanto mais vê-los plácidos dentro do caixão, num sono profundo do qual fosse possível despertar. Mesmo com todas evidências, o rigor mortis, parentes imaginam um sopro de vida. Notam enganosamente perceber uma débil respiração. Querem socorrê-los, diante daquilo que reputam um milagre dos dias do Nazareno. Intentam crendices. Passar a vela acesa próximo ao nariz do morto, naquela expectativa que mova-se a chama. Senão, colocar um espelho defronte a máscara mortuária esperando o embaciamento da superfície refletida, com o suposto respiro da pessoa morta. Decepcionante constatação. Quando muito gases exauridos da putrefação interna pelo nariz e boca... Ser ou não existir? Esta posta a questão.
Determinados óbitos são sem dúvida traumáticos. Dado as características horripilantes. Vítimas de incidentes violentos, mortes aterrorizantes. Desta forma exposta a fragilidade da carne humana, tendo aviltados seus corpos. Sejam mutilados em colisões de veículos, esmagados acidentais, chacinados crivados de tiros, carbonizados irreconhecíveis ou afogados carcomidos por caranguejos após boiarem nos mangues lamacentos. Nesses casos se requer esquife lacrada de modo manter a imagem íntegra da pessoa, a evitar o intenso mau cheiro. Apenas um visor transparente a mostrar a face claustrofóbica do cadáver. Todos familiares lamentosos debruçados sobre o esplendor do Cristo crucificado na tampa. Via neles, a face mais sombria da Senhora das Almas. Invadiam grotescos minhas madrugadas de insônia, povoando meus recorrentes pensamentos mórbidos...
Diz a filosofia popular, que numa coisa ricos e pobres igualam-se, têm os mesmíssimos padecimentos. Ou seja, na morte inevitável. Para um, o acerto de contas. Tendo o outro, descanso das agruras do destino. Entretanto, antes de descer o caixão ao frio sepulcro e saciar a gula dos vermes necrófilos, dispõe o vil metal pagar honras melhores. Ataúde em madeira de lei, ornado de símbolos sacros, cetim revestindo o repouso. Pomposas coroas de flores desabrochadas da fúnebre primavera. Velório cerimonial num templo, ornamentado rabecão pelas avenidas. Nome citado nos obituários dos jornais. Quem sabe alcance a posteridade. Recorrem os infaustos à compaixão monetária dos parentes, pois as encomendas do corpo já não custam somente 2 moedas...
Aí mal esfriou o cadáver da gente de bens, a usura aflora tamanha mesquinhez no seio familiar. Toda parentela se considera merecedora dalgum quinhão. Inclusive parasitas agregados por parentesco, filhos ingratos traidores da confiança, netos desalmados esquecidos dos carinhos. Cônjuges infiéis vestem luto. Arrependidos bajulam o Altíssimo com interesseiras orações a derramar lágrimas de crocodilo. A aura escura do egoísmo os domina. Ferem-se mutuamente quanto cospem desprezíveis razões, indo às barras dos fóruns. Irmãos se voltam contra si. Querem embargar genros e noras malquistos. Filhos adotivos excluídos do inventário. Em nada respeitam a última vontade do ente falecido, julgando dar proveito rentoso a herança. Possuídos pela maldita ganância lançam mão de tramoias advocatícias. Capazes de cometer assassinatos. Dizeres bíblicos das sagradas escrituras advertem, não junte tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem tudo corroem, e onde os herdeiros minam e roubam. Nem sempre onde estiver o seu tesouro, também estará o seu coração. Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem...
Céticos tentarão explicar. Fatos surpreendentes sucederam nas tantas quadras do Cemitério Distrital da Consolação. Coisas do além a olhos vistos. Manifestações telúricas espantosas. Não há lógica possível na dimensão paranormal... O amigo fiel chegou seguindo o cortejo fúnebre, desorientado perambulava a assistir o pesar dos condolentes. Não enxotaram-no naquele último adeus dentro da Capela Mortuária. O cão viera as exéquias do enterro de seu dono. Após selar o túmulo, permaneceu dias à beira do jazigo. Ao transcorrer do dia mantinha silêncio. Porém, obscuras noites ouvia-se os latidos, ganidos eufóricos, até uivos do cachorro. Como se este pressentisse a presença do dono morto. O vigia nunca mencionou ter visto algum fantasma. Da vez que encorajou-se aproximar sorrateiro, viu o animal latindo ao léu para algo etéreo acima da sepultura, doido a girar perseguia o próprio rabo. Um calafrio repentino percorreu-lhe a espinha vertebral, seguido duma sensação paralisante. As sombras noturnas cobrindo as estátuas funéreas atormentavam o homem e retrocedeu. Pelo alvorecer ia conferir. O cão manso a mirar o retrato do dono falecido atarraxado na lápide...
Imaginem quanto uma doença pode ser aterrorizante. De repente a pessoa sofre estranha morte súbita. Sem respiração, batimentos cardíacos, nem atividade cerebral aparente. Acometida do mal que os médicos chamam estado de catalepsia. Um torpor mórbido profundo. O óbito é atestado. Realiza-se o funeral. Ocorre a situação mais apavorante. Sendo a pessoa enterrada viva. Recobrando os sentidos na escuridão da esquife, o desespero de acordar debaixo da terra. Gritar e não ser ouvido, as mãos dilaceradas por ter arranhado a tampa do caixão. Arder os pulmões em sufocamento. Finalmente morrer de asfixia. Porventura, mediante a hipótese de padecer desta macabra doença procede-se a exumação. Os indícios encontrados são reveladores: o cadáver revirado, vestes desgrenhadas, fixa na face aquela perturbadora expressão de horror...
Dentre as tarefas de um coveiro, penosa era a exumação dos restos mortais para desocupar a cova. Retirada a pedra tumular, após emanação dos gases fétidos, mais miasmas asquerosos e a luz do sol adentrasse a sepultura, o vislumbre da tola vaidade, a soberba das pessoas reduzida à podridão. Constatar a pequenez humana ante a voracidade dos micróbios. Sobras do caixão apodrecido, os fechos e alças enferrujados, farrapos de tecidos, carregados num carrinho de mão. Não muito resta da decomposição do corpo humano. Uma gosma escura repugnante, tufos de cabelos, dentes soltos, enfim. Nem todos os ossos resistem, o crânio descarnado, úmeros, rádios, algumas costelas, a pelve óssea, fêmures, tíbias, recolhidos em um saco, depois empilhados no ossário do cemitério.
Tendemos a olhar a Malévola Visitante sendo injusta. Contudo, aos desafetos cumpre-se vingadora, vontade punitiva, conforme nosso falho julgamento de moralidades. Quando de fato, puro azar eletivo.
Nada sabemos deste futuroso encontro. Todos nós carregamos o estigma. Virá a Dama vestida de cetim lilás? Talvez, o abraço do espectro que lhe envolve de escuridão. Ou a ceifadora esquelética macabra... Quem poderá adivinhar? Rá! Rá! Rá!
Perdoem-me se causo a vocês temores com estas crônicas funestas. Porquanto gira a Roda da Fortuna, são 7 dias da semana, 7 os pecados capitais, como 7 são os palmos abaixo do chão... Rá! Rá! Rá!








































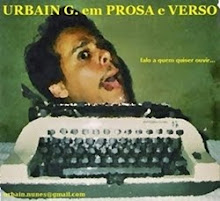














































![Estação das Barcas [ITAPEMA/SP]](http://3.bp.blogspot.com/-cwuWDkunriA/XwSQN8TtABI/AAAAAAAASYk/q5mRkJinPwAh4JmjtgUQG70VC1GpHQIkACK4BGAYYCw/s220/Esta%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bdas%2Bbarcas%2Bitapema%2Bsp%2B06.jpg)














































































![Farol [Forte] de Itapema](http://2.bp.blogspot.com/-RR6UzmrWgZs/Xw9go3tZBxI/AAAAAAAASgQ/mosdsAVxBBUW6o2JE6ioGlF3JLZNQAjNQCK4BGAYYCw/s220/farol%2Bforte%2Bde%2Bitapema%2Bsp%2B1909.jpg)










![[RECLAMES]](http://2.bp.blogspot.com/-qpLYeZbb54M/Tl6DisHLO5I/AAAAAAAABkM/PiyfUNioTRI/s220/ugblog.jpg)